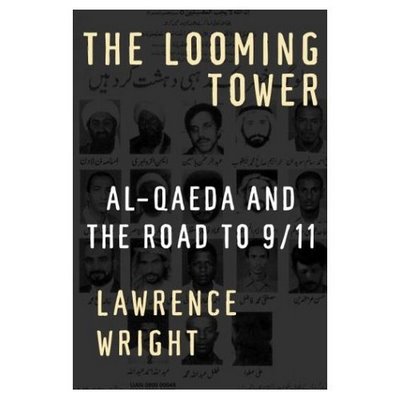O Valor Econômico publicou hoje minha entrevista com o historiador escocês, diplomata, ex-vice rei do Iraque e autor de dois best-sellers aqui nos EUA, Rory Stewart.
UMA TRAGÉDIA AMERICANA
Por Eduardo Graça, para o Valor
08/09/2006
"Há uma sensação de 1968 no ar. Não percebe quem não quer." A frase é de Hendrik Hertzberger, decano articulista político da revista "New Yorker", que pensa menos nos estudantes maoístas em Paris e mais na assimilação, pela América Profunda, da idéia de mais um fiasco militar. Antes, o Vietnã. Agora, o Iraque. O jornalista não está só. Tanto liberais intervencionistas encastelados em Cambridge quanto conservadores cada vez mais irritados com o governo Bush buscam as razões - e um discurso coerente - para explicar o fracasso do projeto do "novo Oriente Médio", elaborado em Washington, que se iniciaria no Iraque pós-Saddam Hussein. O diplomata britânico Rory Stewart está, não por acaso, no centro dessa discussão. Governador durante 11 meses da província de Maysan, território criado por britânicos e americanos no sul do Iraque, ele lançou nos últimos dois anos os best-sellers "The Places in Between" e "The Prince of the Marshes", em que divide com o leitor suas experiências no processo de reconstrução do Afeganistão e do Iraque e se diz "arrependido" de ter acreditado na possibilidade de uma intervenção das forças ocidentais no mundo árabe mostrar-se benéfica. Em uma livraria no Chelsea, em Nova York, Stewart conversou sobre as razões do fracasso. Camisa branca, terno cinza sem gravata, cabelo nigérrimo, olhos azuis brilhantes, muito magro, Stewart fala com pesado sotaque escocês. Inicialmente, passa uma impressão de fragilidade, que pode enganar o ouvinte apressado.
"Uma das tentativas de explicar este revés é apontar para a falta de inteligência, de planejamento, de Washington. Ou se deter sobre certos personagens, como [o presidente] Bush ou o secretário [Donald] Rumsfield. Mas a reconstrução dos países árabes também não funcionaria com uma estratégia mais sofisticada", afirma Stewart. "É verdade que não estávamos preparados para o tamanho da reação da população iraquiana e muitos erros foram cometidos. E é preciso reconhecer que não temos recursos, vontade política e preparo para governar um país em que a grande maioria da população não quer que estejamos lá. É uma irreflexão, e uma irreflexão perigosa, culpar este governo pelo fracasso, como se pudéssemos fazer isso de forma melhor no futuro."
Outro ardoroso ex-defensor da invasão do Iraque, Thomas L. Friedman, do "New York Times", um dos articulistas mais influentes do país, discorda de Stewart. Ele escreveu que o desastre no Iraque se deve à teoria Rumsfield de ocupação, baseada na menor utilização possível de tropas, para diminuir a resistência da opinião pública americana, oposta à teoria Colin Powell, que defendia o envio de um contingente maior de soldados e investimento pesado em segurança, para conter eventuais rebeliões.
Um político ligado à Casa Branca disse à imprensa que o presidente Bush, em conversa com funcionários de alto escalão do Pentágono, revelou-se profundamente insatisfeito com os rumos da ocupação do Iraque, especialmente depois de ver pela TV milhares de pessoas, nas ruas de Bagdá, manifestando-se a favor das ações do Hezbollah em resposta ao bombardeio do Líbano por Israel.
Bush também teria demonstrado desapontamento com o governo xiita, que nunca agradeceu publicamente aos EUA por seus esforços e sacrifícios na liberação do Iraque. Recentemente, o embaixador Paul Bremer, governador-geral do Iraque por 14 meses e superior imediato de Rory Stewart, revelou que, de fato, Bush esperava que as diversas facções do mundo árabe viessem de público agradecer o "desprendimento" dos EUA.
Stewart, que, como diplomata, recebeu a Ordem do Império Britânico pelos serviços prestados à rainha no Iraque, era um oficial da infantaria britânica quando percorreu boa parte do Oriente Próximo, da Turquia até Bangladesh. Participou da força internacional de ocupação na Bósnia e no Kosovo e governou mais de 850 mil pessoas em Maysan, uma área de população predominantemente xiita no Afeganistão.
Suas andanças pela Ásia o deixaram com poucas ilusões sobre a possibilidade de a cultura ocidental ser transposta para o Oriente Médio. "Em Maysan, as pessoas odiavam profundamente o regime de Saddam. Parecia fácil envolvê-las na reconstrução do país. Mas logo nos demos conta de que teríamos de enfrentar, ao mesmo tempo, a imensa pobreza, a ausência de um governo central, a destruição da economia e da infra-estrutura e as divergências de interesses entre as lideranças locais", conta.
Stewart diz que todos os líderes regionais acreditavam ter direito a uma fração de poder no novo governo. Alguns eram líderes religiosos, enquanto outros representavam tribos seculares. Muitos haviam voltado do Irã depois de duas décadas de exílio. As alianças entre eles eram frágeis e os partidos políticos, proibidos durante o governo Saddam, agora eram 54, apenas em Maysan.
"Hoje, vejo que um iraquiano teria vantagem em relação a alguém como eu. No mínimo, saberia reconhecer a hierarquia das famílias no tabuleiro político, teria noção melhor do contexto em que circulam. Eu, um estrangeiro, não tinha como compreender o funcionamento daquela engrenagem", admite Stewart.
O governo de ocupação, comandado por americanos e britânicos, buscou trabalhar com aquela parte da população iraquiana - em geral, profissionais liberais da classe média - que havia estabelecido algum tipo de contato com a cultura ocidental - pessoas que valorizassem a idéia de se estabelecer em seu país, a partir de invasão armada, uma democracia pluralista, e que eram classificadas pelos estrategistas ocidentais como "moderadas". Seriam futuros "exemplos" de líderes iraquianos.
Stewart ficou muito próximo de um desses iraquianos, que, em "The Prince of the Marshes", chama de Ali. Era um jovem de 26 anos, que havia se formado na Universidade de Bagdá, falava inglês fluentemente e acreditava na implantação de um programa de direitos humanos e justiça no país. "Ele acreditava que esta era a oportunidade de se erguer um país mais justo, mais democrático. No entanto, percebi que estava completamente divorciado da realidade da política local. Era, também, um alienígena completo para as pessoas que, de fato, controlavam aquele lugar", relembra Stewart. Ali foi morto a tiros quando entrava em seu carro, em Maysan, aparentemente executado por uma milícia ligada ao atual governo.

"Foi um erro de proporções trágicas invadir o Iraque", diz Rory Stewart, comentando em seu livro "a imensa ignorância ocidental"
Stewart afirma que esse é um exemplo extremo dos problemas que qualquer coalizão de forças ocidentais vai enfrentar em países como o Iraque ou o Afeganistão. Ele pergunta, olhos fixos no público da livraria: "De que adianta buscar pessoas muito bem-educadas, que possam se tornar líderes comprometidos com ideais democráticos, se carecem de representatividade entre a população local?"
Em abril de 2004, oito meses depois de sua chegada a Maysan, Stewart via claramente a insatisfação da população, mesmo dos xiitas, que odiavam Saddam, com o fato de serem governados por estrangeiros. Há no Iraque, diz, um forte sentimento nacionalista e islâmico, que a invasão apenas reforçou. Alguns reclamavam da falta de progresso econômico, outros de progresso político. Insurretos comandados por um antigo aliado iraquiano cercaram a sede do governo. Stewart escapou por pouco.
Foi na primavera de 2004 que uma milícia de iraquianos atacou os funcionários terceirizados contratados para trabalhar na prisão de Fallujah. Alguns dos sobreviventes deram depoimentos marcantes ao cineasta Robert Greenwald, contando como alguns de seus colegas foram arrastados pelas ruas e enforcados na ponte da cidade. Diretor conhecido do público americano por seus documentários contra Rupert Murdoch e a rede de supermercados Wal-Mart, Greenwald lança seu "Iraque à Venda: Quem Lucrou com a Guerra", focado na atividade das empresas que trabalham para as forças de ocupação. O filme tenta, diz Greenwald, fazer com que as eleições parlamentares de novembro nos EUA sejam nacionalizadas a partir de um tema: o fracasso americano no Iraque.
Em "Iraque à Venda", as empresas contratadas para reconstruir e reorganizar o Iraque - em sua maioria, dirigidas por ex-altos funcionários dos governos Reagan, Bush pai e Bush Jr. - não aparecem apenas como assaltantes do contribuinte, quando cobram US$ 45 do governo por uma caixa com seis garrafas de Coca-Cola, mas também são denunciadas pelo modo irresponsável como atuam, que ameaçaria os cidadãos iraquianos, as tropas americanas e seus próprios empregados. Entre os vilões do filme estão a Blackwater Security Consulting, que oferece segurança privada (guarda-costas) em países em convulsão crônica; a KBR, subsidiária da Halliburton, responsável por suprir quase todas as necessidades dos militares, de combustível a comida e banheiros químicos; e a Caci International, que fornece funcionários para as mal-afamadas prisões de Fallujah e Abu Ghraib , também incumbidos de interrogar prisioneiros.
Uma das principais críticas à expedição americana no Iraque é justamente a de ter permitido às corporações privadas fazerem o que bem entendessem por lá. De fato, nada saiu como anunciado pela Inspetoria Especial para a Reconstrução do Iraque, criada em 2003. Os lucros do petróleo, inicialmente, seriam destinados para a restauração da eletricidade em toda Bagdá e investimento pesado em saneamento básico e infra-estrutura. No entanto, de acordo com o próprio Departamento de Estado, 45% dos projetos envolvendo água potável sequer saíram do papel e um terço dos projetos relacionados à geração de energia elétrica estão parados.
Três anos depois, nem mesmo a menina-dos-olhos da primeira-dama Laura Bush, o hospital para crianças que seria construído pela Bechtel, foi inaugurado. Detalhe: a empresa já avisou que exauriu o orçamento e precisa de mais dinheiro público para colocar o hospital em funcionamento. E dezenas de investigações estão sendo feitas para apurar possíveis irregularidades em contratos assinados por empresas envolvidas no programa de reconstrução.
Stewart estava no Iraque quando a população reclamava da falta de energia elétrica em Bagdá. "Por que não resolvem de uma vez esse problema? Ora, ainda não resolvemos no Kosovo, sete anos depois da intervenção. O fato é que é bastante difícil implementar esse tipo de investimento com eficiência, mesmo em lugares como o Kosovo, onde a população era menor, cerca de 500 mil habitantes, e mais receptiva."
Os números do malogro americano impressionam: em três anos, mais de 2.500 soldados morreram no Iraque, outros 20 mil de lá saíram seriamente feridos ou incapacitados e pelo menos 75 mil iraquianos morreram em conflitos internos com os americanos. E há os gastos, que já ultrapassam os US$ 350 bilhões. Mais: apesar de toda a atenção dada pela mídia aos conflitos no Líbano, mais gente foi assassinada no Iraque (uma média de 100 por dia) do que nas batalhas entre Israel e o Hezbollah.
Jessica Stern, especialista em terrorismo de Harvard, , autora de "Terror em Nome de Deus: Por que Militantes Religiosos Matam", diz que Washington criou no Iraque algo inédito, uma espécie de "nação-escola de terrorismo, com um Estado completamente incapacitado de proteger suas fronteiras nacionais ou mesmo suprir as necessidades mais elementares de seus cidadão". Mesmo assim, no mês passado, a ocupação do Iraque ultrapassou importante barreira psicológica: as forças armadas do país já estavam há mais tempo lutando em solo nacional do que o fizeram em toda a campanha da Segunda Guerra Mundial.
Intelectuais americanos das mais diversas linhas de pensamento apontam para o perigo da falta de conexão entre o cidadão americano - as mais recentes pesquisas mostram que mais de 65% consideram a invasão do Iraque um equívoco - e a diplomacia de Washington, algo comparável justamente com o quadro pintado por Hendrik Hertzberger para lembrar as semelhanças com 1968..
A lógica do prolongamento da agonia, que empurrou o governo Lyndon Johnson para o atoleiro do Vietnã, pode repetir-se agora no governo de George W. Bush. Não se sabe ao certo por que as tropas permanecem em Bagdá, nem por que tiveram de ocupar o país. Autor de "Fiasco: a Aventura Militar Americana no Iraque", o jornalista Thomas E. Ricks, do "Washington Post", vai direto ao ponto: "Não há mais esperança alguma para a vitória". O embaixador Charles Freeman Jr., que serviu na Arábia Saudita durante o governo de Bush pai, vai além. "O que quer que aconteça no Iraque terá repercussões sobre o exercício do poder americano, não apenas no Oriente Médio, mas em todo o mundo".
Como, então, encontrar internamente, em um ano de eleições legislativas, o discurso mais seguro para assimilar a derrota? Deverá ser um discurso que, como lembra Hertzberger, inevitavelmente terá de levar em conta os danos ao prestígio moral dos EUA, os níveis recordes de antiamericanismo no mundo árabe e na Europa, o crescimento da ameaça nuclear no Irã e na Coréia do Norte, o avanço do terrorismo e mesmo a necessidade de se combater o "fascismo islâmico", denominação criada pelos neoconservadores para abrigar os financiadores do Hezbollah, que, no entanto, não se encontram em solo iraquiano. A tarefa é das mais árduas. Neste momento, apenas Washington e os neoconservadores abrigados no "The Wall Street Journal" e na "Weekly Standard" parecem negar em público o que Rory Stewart classifica como absolutamente óbvio.
Mas vem do ex-governador da província de ficção criada por britânicos e americanos no Iraque a pista para democratas e republicanos encontrarem um discurso possível. Stewart diz que viveu uma das experiências mais caóticas das últimas décadas. E que carrega consigo uma profunda sensação de fracasso. "Em meus livros, procurei enfatizar a imensa ignorância ocidental. Alguns americanos citam o escritor V. S. Naipaul e sua afirmação de que a experiência britânica na Índia, no fim, foi positiva, pois teria desmantelado uma sociedade tribal e desigual e implantado a obediência à lei para todos. Por favor, olhem para a colonização britânica no Afeganistão ou mesmo no Iraque e vejam o resultado. Os iraquianos sabem mais de si mesmos do que nós", afirma Stewart. E completa: "Temos de sair de lá. Foi um erro de proporções trágicas invadir o Iraque. E precisamos parar com a chantagem de que, se admitirmos a derrota, o país entra em guerra civil. Balela. Nossa presença tem tido uma conseqüência imprevisível: estamos unindo sunitas e xiitas, que vêm falando, e não apenas no Iraque, e cada vez mais, de um Islã unificado. Acredito que eles vão conseguir se entender e enfrentarão os radicais com mais legitimidade. E se, como diz Thomas L. Friedman, realmente precisamos de mais de 135 mil soldados para controlar o Iraque, então essa é a tradução maior do grande fracasso das potências ocidentais ne terrível aventura iraquiana".