CARTA CAPITAL/ESPECIAL
O IMPÉRIO DA FÉ
Em plenos “anos rebeldes”, Kevin Phillips profetizou a restauração da ordem conservadora nos Estados Unidos. Hoje, ele denuncia o declínio da grande democracia americana sob o poder da nova direita cristã
Eduardo Graça, de Nova Iorque, para a Carta Capital
Em setembro de 1969 um advogado de 28 anos conhecido apenas por ser o acólito mais querido do então todo-poderoso John Mitchell, comandante do Departamento de Justiça do governo Richard Nixon, deu as caras nas livrarias do país com The Emerging Republican Majority. No livro ele profetizava, a partir de uma sucinta análise do crescimento demográfico e das modificações na economia dos Estados Unidos, a consolidação de uma maioria conservadora que inevitavelmente dominaria o espectro político do país. Pois o mesmo Kevin Phillips, 64, não por acaso acaba de lançar American Theocracy, seu décimo-terceiro livro, em que denuncia, a partir do título, a transformação gradual da grande democracia do norte em um Estado refém de uma inédita aliança entre as grandes corporações e uma poderosa direita cristã.
Na virada dos anos sessenta, Phillips foi considerado um provocador ao prever que a migração de força de trabalho e de recursos do industrializado norte rumo aos subúrbios do sul e ao oeste do país iria se traduzir em uma nova e mais sólida maioria republicana, restauradora da ordem perdida nos anos rebeldes. A profecia se cumpriu, mas a História, garante o escritor, foi caprichosa. Em American Theocracy ele mostra como o discurso da retidão moral se traduziu - enquanto Washington passava pelas mãos de Ford, Reagan, Bush pai e Bush filho – em fundamentalismo religioso, extremismo ideológico, irresponsabilidade fiscal, culto à ganância desenfreada (leia-se Enron e outros escândalos envolvendo grandes corporações) e a um constragedor caipirismo anti-iluminista.
Conhecido no Brasil pelo que talvez seja seu livro mais fraco, A Dinastia Americana, em que conta com detalhes a história da família Bush, Phillips diz que a coalizão conservadora e o governo Bush deixam um legado desastroso para os norte-americanos, resumidos em três grandes pragas: a dependência do petróleo (batizado de ‘petro-imperialismo ianque’), um déficit econômico recorde na história do país e, especialmente, a intromissão violenta de um cristianismo radical e conservador em todos os níveis do governo Bush.
De fato, mais de dois séculos depois de a separação entre a igreja e o estado firmar-se como um dos pilares da democracia americana, a direita religiosa divide com a ala mais conservadora do Partido Republicano a convicção de que está fadada a transformar os EUA no Reino de Deus na Terra. Para tanto, conta com um combustível precioso: o desejo de milhares de norte-americanos de ascenderem socialmente e abraçarem uma vida com mais sentido e espiritualidade, como canta o cada vez mais afinado coro dos evangélicos, cerca de 75 milhões de praticantes adultos em todo país.
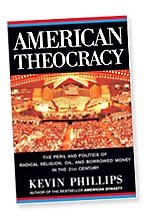
Em 2004, o governo federal aplicou US$ 2 bilhões em programas sociais dirigidos por entidades religiosas, em sua esmagadora maioria afinadas com o ideário conservador. Nunca a Casa Branca destinou tanto dinheiro do contribuinte para promover grupos religiosos. O presidente, no entanto, considerou a marca – 10% de todo o investimento social do governo – insuficiente. Com índices de popularidade abaixo dos 45%, Bush tende a se fiar na parcela da sociedade que o apóia com mais fervor. De acordo com o sociólogo José Casanova, da New School University, de Nova Iorque, há uma tendência entre os evangélicos em todo o mundo de votar em candidatos conservadores: “Eles não se vêem como pobres, mas como cidadãos em ascensão social, com a providencial ajuda de Deus. Estão sempre alinhados com as forças pró-mercado e não acreditam em um Estado interventor”.
Os conservadores cristãos jamais foram tão fortes em Washington. Um de seus expoentes é o senador Tom Coburn, de Oklahoma, defensor da pena de morte para médicos que pratiquem o aborto. Richard Shelby, do Alabama, é o defensor do Ato de Restauração da Constituição, um adendo à carta magna que oferece aos juízes a opção de aplicarem sentenças bíblicas no lugar das leis civis. E o que dizer de Richard Baker, da Louisiana? O deputado foi flagrado quando confessava a lobistas que a destruição de Nova Orleans pelo furacão Katrina ‘finalmente nos livrou do problema da habitação popular na cidade, jogando tudo terra abaixo. Algo que nós não poderíamos fazer, mas que Deus realizou”. Nada menos que 491 dos 535 membros do Congresso se dizem cristãos praticantes.
No fim de 2005, a rede ABC produziu um especial sobre o tema e levou suas câmeras para o interior dos mega-templos espalhados por todo o país. Líder da Nova Vida, que conta com mais de 11 mil fiéis em Colorado Springs, no Colorado, o pastor Ted Haggard, 49, presidente da Associação Nacional dos Evangélicos (ENA), disse que seus sermões lembram sim um comício eleitoral: “A diferença é que nossa plataforma são as Escrituras”. O voto evangélico tem sido uma peça-chave no sucesso dos republicanos, que já controlam os poderes Executivo e Legislativo. A neo-cristã Karen Monroe, da Nova Vida, contou que foi ‘maravilhoso’ quando ouviu Bush, um metodista, falando pela primeira vez sobre sua fé. “Não leio jornais nem tenho tempo para ver as notícias na televisão, mas pelo menos eu sei que o presidente governa pelas leis de Deus. E o admiro por isso”, contou.
Nas eleições de 2004, 3,5 milhões de evangélicos foram às urnas pela primeira vez. E mais de 67% deles votaram em Bush. O sociólogo Tony Carnes, da Columbia University, especializado em religião, conta que “há um senso de conexão pessoal com Bush, o presidente que fala confortavelmente de sua fé”. Sentado no popular Vibe Cafe, no Brooklyn, ele afirma que a revolução evangélica não está restrita apenas aos estados mais conservadores: “Vivemos aqui uma guerra cultural, com os evangélicos de um lado bem claro da trincheira. E cada vez mais unidos”.
O ataque ao World Trade Center, em 2001, acelerou o processo. “Uma semana depois de as torres desabarem, líderes de 300 comunidades se reuniram na American Bible Society. Desde então, esses encontros acontecem todos os meses”, diz Carnes. Definir o que é um ‘evangélico’ é tarefa difícil. Para o sociólogo, eles são cidadãos que valorizam a doutrina cristã e acreditam na autoridade da Sagrada Escritura e na importância da conversão individual. Um censo realizado pela Universidade de Delaware em 2000 estima em 2 milhões o exército de crentes nova-iorquinos.
Um dos diretores do Research Institute for New Americans, Carnes é evangélico e freqüenta a Redeemer Presbyterian Church, em Manhattan. Nos últimos anos, ele conversou com os mais importantes líderes religiosos da cidade para finalizar seu livro To Change New York, uma ambiciosa história da aventura evangélica em Gotham City, batizada nos meios acadêmicos de ‘urbanismo glorioso’. Este leva em conta o desgaste das políticas sociais implantadas pelos liberais na década de 30 do século passado. O mais alto nível de educação, garantido pelo New Deal do governo Roosevelt, teria, ironicamente, levado os mais pobres, gerações seguintes, a renegar a chamada ‘mentalidade assistencialista’. “Os programas públicos se mostraram incompatíveis com a realidade de cidadãos conscientes de que a dignidade só é alcançada quando se consegue ganhar o sustento sem depender de alguém de fora de sua comunidade”, resume Carnes.
Esta busca pelo reconhecimento social é explicitada em casos como o do imigrante hondurenho que Carnes encontrou recentemente em uma igreja evangélica voltada para a comunidade negra. Depois de ‘descobrir o poder de Deus’, voltar para a família e deixar o álcool de lado, ele foi escolhido diácono da paróquia de seu bairro. “Houve ali uma ascensão social que nem a escola nem a Igreja Católica parecem oferecer mais”, diz.
Os católicos amargaram nos últimos anos sua pior crise. Abalada por escândalos sexuais, a Igreja acaba de fechar 22 escolas na cidade por falta de alunos e outras sete em Newark, centro da comunidade brasileira em Nova Jérsei. Uma das maiores migrações de fiéis que engrossam o coro evangélico está justamente na população oriunda de países da América Latina. Só a Radio Visión Cristiana AM, uma das líderes no filão em língua espanhola, conta com 200 mil ouvintes diários na Grande Nova Iorque.
Na comunidade religiosa mais vibrante da cidade, a presença de imigrantes sul-americanos é grande. Localizado nos cafundós do Brooklyn, e comandado pelo reverendo A. R. Bernard, 53 anos, o Christian Cultural Center (CCC) reúne 24 mil fiéis todos os fins de semana. Antes de se tornar evangélico, Bernard, filho de uma negra panamenha com um descendente de espanhol, fazia parte da maior congregação muçulmana do país. Respeitado por Al Sharpton e Jesse Jackson, ele passa longe do ideário mais liberal que caracterizou seus predecessores. Em seus sermões não trata de mudanças radicais nem de injustiças sociais, mas da importância de se seguir a Bíblia com fervor e de jamais se corromper.
Sua igreja – um centro cultural de fato, com lanchonete, biblioteca, estúdio de gravação e jardim– não é apenas a maior da cidade, mas a que cresce mais rapidamente em número de fiéis. Originalmente, o CCC se chamaria Life Center, mas Bernard quer que os novos líderes evangélicos se reconheçam como ‘transformadores culturais’. De acordo com um censo conduzido pelo CCC e pela Columbia, existem hoje 7.100 igrejas evangélicas na cidade. A religião, aqui, une extremos. Negros e hispânicos, tradicionalmente em luta por um mercado de trabalho estagnado, marcharam juntos nas últimas eleições presidenciais em torno de um ponto comum: a oposição ao ‘casamento gay’. Em julho, a Bronx Hispanic Christians organizou a maior manifestação contra o movimento homossexual da história da cidade, reunindo mais de 8 mil pessoas, com grande apoio da comunidade negra. Não deixa de ser irônico pensar que negros como o reverendo Bernard tiveram de enfrentar há apenas quatro décadas a discriminação de segregacionistas e da direita mais raivosa.
Do outro lado do púlpito, os liberais contam com um profeta solitário, o pastor evangélico Jim Wallis, editor da revista mensal Sojourners e autor do campeão de vendas A Política de Deus. Guru da senadora Hillary Clinton, ele diz que o Democrata precisa deixar de ser o ‘partido do secularismo’ se quiser vencer as próximas eleições. “Quando Deus vira propriedade de um partido ou mesmo de um país, estamos politizando a fé. Ou seja, professando má religião”, diz. Wallis ressuscitou a imagem do candidato com a Bíblia em uma mão e a Constituição em outra, na melhor tradição de lideres históricos como Martin Luther King. Por isso mesmo não causou espécie quando, nas eleições de 2005, o democrata Timothy Kaine iniciou sua campanha para governador da Virginia em um programa de rádio evangélico. Sua propaganda batia na tecla de que ele abandonou a faculdade de Direito para se juntar a uma missão evangelizadora em Honduras. Seu marqueteiro, David Eichenbaum, foi direto: “Todo o falatório sobre como a fé cristã estará presente em sua administração teve o claro objetivo de mostrar que ele não é um liberal típico”. Kaine venceu o adversário republicano com boa margem.
Mas a tática de aproximação não é consensual entre os democratas. Em um inflamado artigo no The New York Times o professor Mark Lilla, da Universidade de Chicago, escreveu que nunca é demais lembrar que os próceres do iluminismo almejavam que o cristianismo deixasse para trás a realidade baseada na fé e evoluísse para uma fé baseada na realidade. Como vê a sociedade americana caminhando para a direção oposta, Lilla puxou a orelha dos democratas interessados em cortejar o eleitor evangélico: “A crença em conversões miraculosas e pessoais, a ignorância dos princípios mais básicos de Ciência e História, a demonização da cultura popular, a censura de textos escolares, todos estes fatos são muito mais importantes do que a perda de algumas cadeiras no Congresso Nacional”.
Tony Carnes pondera que a relação entre religião e política não é exatamente uma novidade na história americana. Afinal, diz, o maior organizador da Igreja Batista nos EUA foi John D.Rockfeller, que planejava a criação de um templo batista em cada canto do país. Curiosamente, a mais poderosa das igrejas evangélicas atualmente é a Convenção dos Batistas do Sul, com cerca de 16 milhões de fiéis. Para eles, deve-se seguir uma ‘interpretação literal da Bíblia’ e acreditar que as mulheres devem se submeter aos homens, no que Kevin Phillips denomina, em American Theocracy, de ‘prática taliban’. “Um governo teocrático, a partir da doutrina cristã”, escreve. Mais grave: Phillips diz que boa parte dos fundamentalistas cristãos encastelados no governo Bush acreditam, de fato, que a crença religiosa deve mesmo ser a base da política externa do país, não apenas discurso para agradar os eleitores protestantes.
Os batistas mostraram recentemente sua força ao boicotar os produtos da Disney (por sua política de não-discriminação a homossexuais). Mas, sinal dos tempos, a ‘major’ buscou o financiamento do bilionário evangélico Philip Anschutz para seu principal lançamento de inverno, as Crônicas de Nárnia. O filme foi exibido em mais de 500 igrejas transformadas em salas de exibição na mesma sexta-feira em que o O Segredo de Brokeback Mountain, era vítima de piquetes e protestos dos conservadores.
Por isso mesmo Alan Brinkley, professor de história da Columbia, considera American Theocracy um livro ainda mais iluminado do que The Emergin Republican Majority. ‘Esta talvez seja a mais alarmante análise do momento histórico em que vivemos. Phillips criou um retrato tenebroso do presente deste país que nenhum cidadão pode ignorar’, escreveu, na segunda quinzena de março, na capa do suplemento de livros do The New York Times. Tony Carnes concorda que a transformação de pastores em lobistas e de fiéis em rebanho eleitoral permeia as duas faces da ‘revolução evangélica norte-americana’: um desejo sincero de retirar o pobre de sua condição miserável, atestando a falha das políticas públicas de combate à miséria, mas também um crescente registro de corrupção e alienação, com uma prática mais oposta impossível à vida de Jesus Cristo. Um panorama não tão diverso assim da realidade brasileira. “Multifacetados, porém mais unidos do que nunca, os evangélicos estão mudando para sempre a política norte-americana”, diz Carnes. Só não crê quem não quer.
CURTIS FREEMAN/ entrevista

O teólogo Curtis Freeman, autor de dois importantes livros sobre a religiosidade dos americanos – Ties that Bind e Baptist Roots –, está terminando de escrever Other Meanings, em que examina o ressurgimento da faceta mística do cristianismo. Freeman, que não tem filiação partidaria, conversou com a Carta Capital de seu escritório na Duke University, na Carolina do Norte.
-A Constituição americana foi pioneira ao estabelecer um governo secular, independente de qualquer grupo religioso. Mas causa celeuma em certos círculos as íntimas relações estabelecidas pelo governo Bush com grupos cristãos conservadores. Como o senhor vê o panorama atual?
-Quando nasceu, os Estados Unidos viviam a realidade da colônia, com igrejas, por assim dizer, estatais, como as que existiam na Baía de Massachusetts e as da Virgínia. A Constituição, que simplesmente não fala em Deus, declara, em seu primeiro artigo, que o Congresso não pode transformar nenhuma religião em ‘oficial’. Apesar disso, no sul, um protestantismo de caráter evangélico manteve-se extra-oficialmente como uma espécie de religião do Estado. A mudança vem com uma onda pluralista que está afetando profundamente a sociedade americana. É preciso encarar este ‘renascimento evangélico’ como a reação desses grupos mais à direita, que querem manter seu status a qualquer custo. Posso até fazer uma analogia com a Igreja Católica brasileira, que vem tentando se adaptar ao crescimento dos evangélicos e não quer perder sua proeminência.Uma das críticas à direita religiosa é a de que sua aliança com os conglomerados capitalistas não faz sentido filosófico ou religioso. Alguns liberais falam com ironia de uma inédita combinação de ‘ativismo evangelizador com as mais poderosas corporações do país’. O que acontece é que eles ainda acreditam no mito de que a América foi fundada por pessoas que buscavam liberdade religiosa. Mas não foi bem assim. Os colonos queriam ser livres para louvar Deus da maneira que bem entendessem mas, principalmente, pretendiam forçar todos os outros a aceitar a verdade deles. Por isso mesmo os fundadores dos EUA rejeitaram claramente esta visão teocrática das relações entre a religião e o poder público.
- Mas quem é, afinal, esta direita religiosa?
- Ironicamente, são igrejas que servem como mera extensão das políticas da sociedade secular. Elas encontram os versos da Bíblia que mais se adaptam às suas plataformas e os utilizam como armas poderosas. O que eles pregam é o fim da liberdade religiosa em um estado democrático, como a conhecemos. Eles querem implantar uma teocracia pela força da lei.
- O senhor acredita que a esquerda deveria ter uma relação mais confortável com os cristãos, maioria do eleitorado?
- Muitos cristãos acham que a direita atua mal na esfera política e criticam a maneira como os republicanos tratam da pobreza, com as guerras e com a negação da justiça social. Mas, para esses mesmos cristãos, se a direita faz errado, a esquerda sequer faz. Os Democratas confundem a separação entre a igreja e o Estado com uma barreira entre Deus e o poder público. Há uma sensação de que a secularização defendida pela esquerda inclui uma ‘ateização’ do americano comum. E a maior parte dos cristãos almeja uma vida social mais religiosa, e, ao mesmo tempo, mais plural, mais diversa.
- Mas isso parece impossível quando os fundamentalistas pregam a interpretação literal da Bíblia...
- Eles dizem que ‘o sentido da Bíblia está nas escrituras, e as escrituras são seu significado maior’. Ora, para se ler a Bíblia com respeito é preciso levar em conta uma análise social, histórica e teológica. E, principalmente, ouvir o que os outros têm a dizer! São esses ‘diferentes’ que nos ajudam a perceber quão fácil é decidir o que é um pecado imperdoável, especialmente quando ele não é o ‘nosso pecado’. (Eduardo Graça)





















